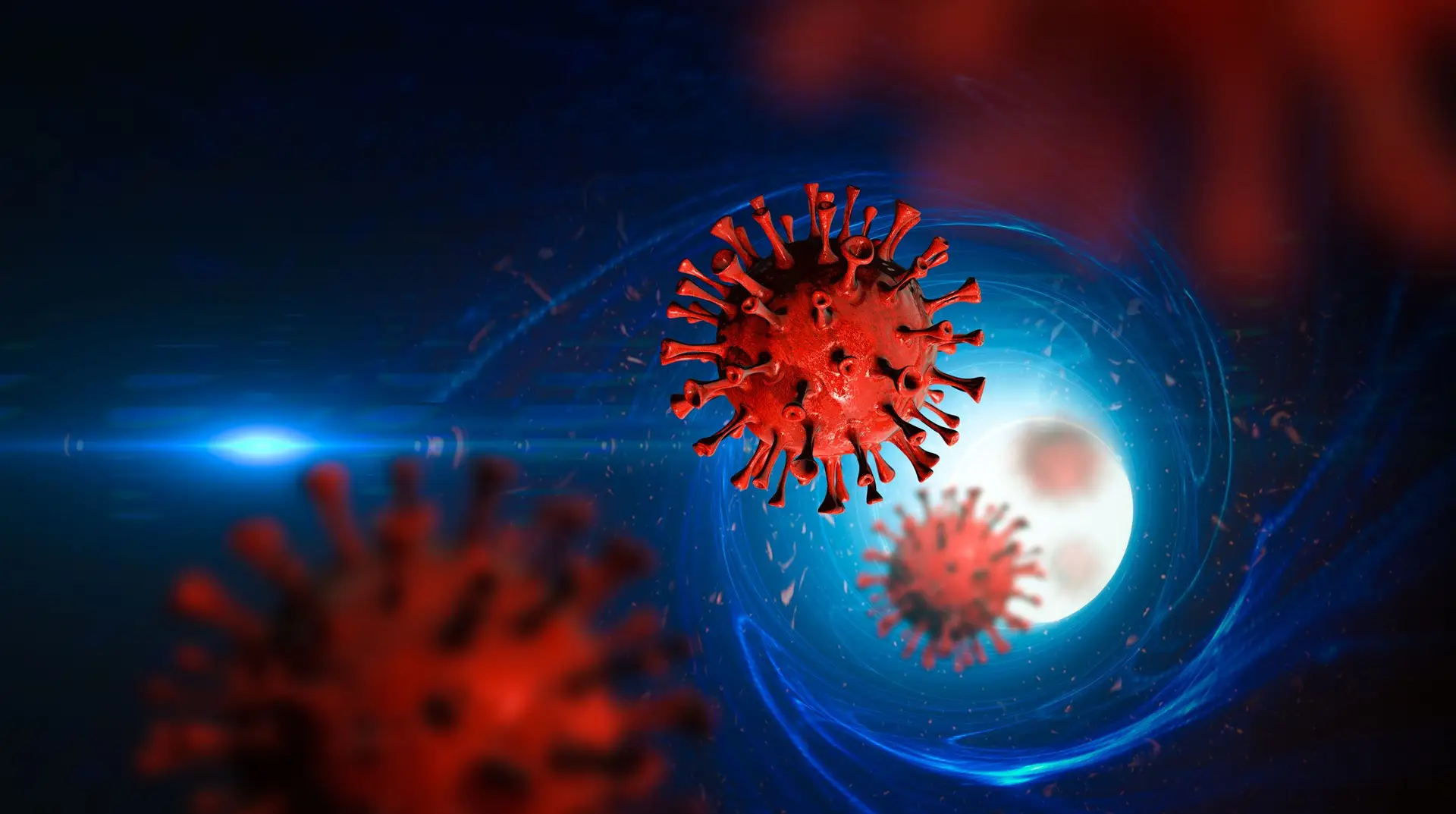A 6ª vaga trouxe clarividência a quatro argumentos: a real efetividade das vacinas e do processo de vacinação; que este coronavírus não tem tido um comportamento sazonal, que o número elevado de pessoas suscetíveis de contrair a primeira infeção ainda coloca dúvidas sobre os impactos da doença nos serviços de saúde; e que a imunidade de grupo estável e duradora não passa, para já, de uma miragem.
O modo como na 6ª vaga encaramos a pandemia começou a configurar-se em dezembro com a descoberta da variante ómicron. Desde então percebeu-se que o controlo da transmissão seria impraticável sem medidas extremas de confinamento (veja-se o caso da China) e, que perante isso, a única opção seria vacinar tão depressa quanto possível para reduzir os impactos da doença sem grandes restrições à rotina diária.
Mas há uma peça do puzzle que ainda é difícil encaixar: a mortalidade. Atribuir causas aos óbitos está longe de ser um processo simples ou linear. Em maio, a própria OMS reviu as suas estimativas de óbitos causados pela Covid-19 a nível mundial em mais de 2,5 vezes.
De um ponto de vista simples, estas alterações explicam-se pela fragilidade dos sistemas de monitorização epidemiológica, o que tende a ser mais plausível nos países de baixa e média renda. O que causa surpresa é que alterações destas contagens aconteçam nos países de alta renda, onde os sistemas de dados são sofisticados e a experiência vem de há muito tempo.
A aferição de quantas pessoas morreram por causa da pandemia faz-se por estimativa dos óbitos esperados nos anos anteriores à Covid-19. Esse valor é subtraído aos óbitos registados durante a pandemia. Está consensualizado que este cálculo é mais efetivo para efeitos de comparações internacionais do que somar o número de óbitos por causas específicas. Isto, porque os vários países mantiveram sistemas de diagnóstico da Covid-19 e de classificação de óbitos muito díspares.
Mesmo assim, encontrou-se outro problema. Os países estavam a usar diferentes períodos de tempo para estimar os óbitos esperados antes da pandemia. Apenas corrigindo este fator, os resultados sofreram alterações. A Suécia registou um aumento de 19% de mortalidade excessiva durante a pandemia, enquanto a Alemanha uma diminuição de 37% face às estimativas anteriores.
Mas o problema metodológico não se fica por aqui. Em boa verdade, a maioria das comparações internacionais que temos visto comparam o incomparável.
Se há coisa que sabemos desde o início da pandemia é que este coronavírus tem implicações clínicas mais graves em grupos de idades e de doenças relativamente bem identificados. Como tal, não deixa de surpreender o quão lentos os governos e as autoridades nacionais de saúde têm sido para estimar o peso da infeção, da doença e da morte em função das características demográficas e epidemiológicas da população.
Mesmo antes de ter feito as contas, disse inúmeras vezes que Portugal é um país bastante vulnerável à Covid-19, bastando olhar para o que acontece nas épocas gripais, conhecendo a carga de doença na população – que não se restringe às pessoas mais velhas –, sabendo da pirâmide demográfica envelhecida e do estado de vulnerabilidade social e financeira de parte importante da população portuguesa.
Fazendo o exercício de ajustar a mortalidade apenas por fatores etários (ignorando a carga de doença e as condições socioeconómicas), estimativas internacionais apontam que na 1ª vaga, Portugal registou níveis baixos de mortalidade excessiva face aos demais países europeus (30,7% acima da média dos 5 anos anteriores), embora na 3ª vaga (o inverno de 2021) tenha registado o maior pico de mortalidade excessiva (83% acima da média dos 5 anos anteriores).
Este raciocínio é importante para perceber o que se passa com a mortalidade na 6ª vaga, sobretudo perante níveis pouco moderados de impacto da infeção. Várias vozes têm-se feito ouvir no sentido de exigir que se clarifique se se trata de doentes cuja causa principal de óbito é a Covid-19 e se estas pessoas têm as patologias que agravam os efeitos da Covid-19. Também se estão em causa doentes cujo quadro clínico agravou-se devido a atrasos de diagnósticos ou ainda pela atenção quase exclusiva que as pessoas dão à Covid-19.
Embora estas respostas não apontem para o mesmo problema, há um denominador comum que é bem conhecido em Portugal. As patologias que agravam a Covid-19 – doenças respiratórias, cardiovasculares, diabetes, hipertensão e obesidade – acontecem mais entre as pessoas com menos escolaridade. Isto acontece porque estão expostas a mais riscos e têm piores as condições de trabalho, ou porque desempenham trabalhos cujas características são mais desgastantes física e psicologicamente. Também porque o rendimento disponível é inferior e as condições de habitabilidade piores, já para não falar nos estilos de vida e hábitos alimentares.
Assim, a compreensão da mortalidade em tempos de pandemia exige não só maior rapidez na classificação dos óbitos, mas também formas mais inteligentes de comparação dos vários grupos populacionais. O risco de adoecer e de morrer não é igual face aos recursos que as pessoas detém, e sobre isto ainda há muito por dizer da Covid-19 em Portugal.