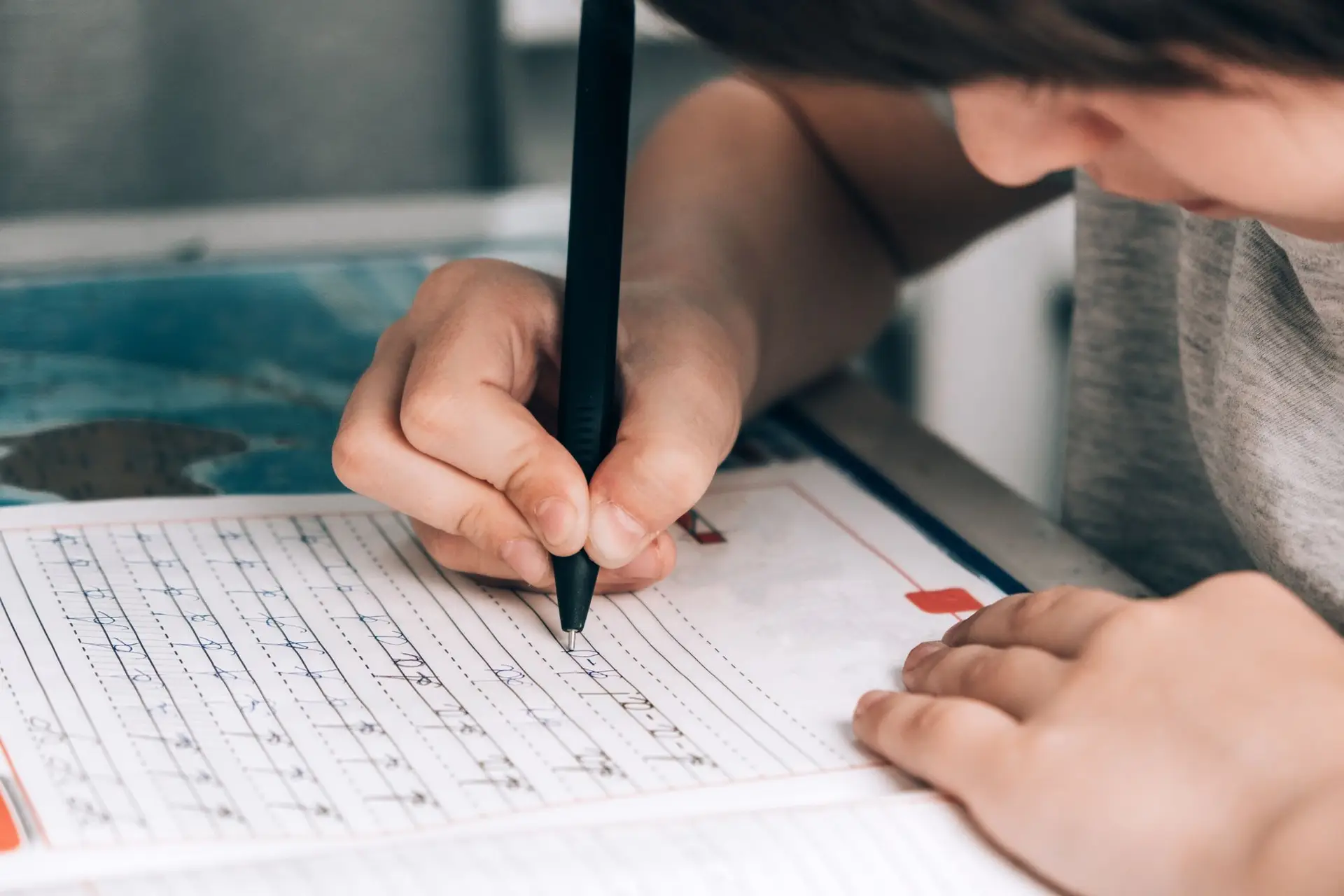Letra de menina. Era mais ou menos assim que chamávamos todos a uma caligrafia bem desenhada, redondinha, alinhada e bem proporcionada. Sexismo bacoco? Claro que sim,(o horror, o horror). Até porque não era inédito que também muitos rapazes tivessem “letras” bem regulares e elegantes. Resultado de um treino de anos de escola, a caligrafia representava bastante da identidade de cada um. Esta letra é do Gil. Esta letra é da Ana Lúcia. Nunca havia grandes dúvidas. A forma como cada um redigia as suas frases representava mais do que a esperada sucessão de palavras. A disposição do risco, o temperamento do traço, o feitio da curvatura, tudo denunciava peculiaridades que identificavam a autoria. Era uma marca, um cartão de identidade. Era a minha letra. E quem se prepare já para denegrir este argumento dizendo que a caligrafia era, isso sim, uma forma de albarda estilística que a todos obrigava a seguir obrigatória convenção, oponho o outro argumento que todos conhecem igualmente.
Cadernos de duas linhas
Depois de domesticar continuamente a forma escolar de escrever, oprimida por esses instrumentos de martírio convencional que eram os cadernos de duas linhas, (o horror, o horror) todos chegavam a um certo momento da vida em que, tal como se muda a voz, também a letra se mudava. Nascia então o vínculo visceral. Nasciam as caligrafias pessoais. Era como que um renascimento. A caligrafia tornava-se um amparo vitalício. Sem qualquer valor científico, a grafologia fascinava-nos pela capacidade que prometia de descobrir características pessoais íntimas e secretas a partir da análise da caligrafia. Diz-me como escreves, dir-te-ei quem és. Era, por exemplo, fascinante comprovar a beleza das caligrafias dos nossos pais e avós. Aqueles que sabiam escrever, evidentemente, que os tempos eram realmente bastante outros.
A “letra da minha mãe” é uma expressão simples que ainda hoje comove muita gente. A verdade é que a caligrafia representava bastante do sucesso pessoal de cada um. Quanto mais bonita a letra, mais promissora era a esperança de vida culta de cada indivíduo.
Letra como esparguete
Com a idade ia-se fazendo a síntese e a estilização; um depuramento que, por vezes, chegava a tornar a caligrafia indecifrável. Na verdade, para alguns nem sempre é possível fazer com que a caneta acompanhe a velocidade do pensamento. Sofre-se com a lentidão de passar para o papel tudo aquilo que nos passa pela cabeça. Nesses casos, a caligrafia constitui um peso morto que muitos tentam amenizar de uma forma ou de outra. É a famigerada “letra de médico” que representa o paradigma do desalinho caligráfico. Para resolver este dilema, o eterno Charles Dickens procurou uma forma de escrever que fosse bastante mais rápida e plena de abreviaturas. Chegou mesmo a inventar formas únicas de escrever. Uns anos depois, confessaria que a sua letra – braquigráfica e codificada - era a “caligrafia do diabo”, ficando ilegível durante décadas pelos investigadores. Quem teve a oportunidade de estudar caligrafia antiga – paleografia – sabe quem foi Avelino da Costa – um dos maiores especialistas portugueses de escrita antiga - e sabe também que a letra cursiva do século XVIII era assim como que uma espécie de esparguete lançado numa mesa. Quase impossível de decifrar. A irregularidade dos desenhos e a proliferação de abreviaturas torna ainda bastante exigente a descodificação de uma frase banal.
O mal está nos computadores
Com o avanço dos tempos foi-se estragando este brio pela caligrafia. A digitalização das coisas é uma das principais razões apontadas para a extinção da caligrafia e outras exaltações do passado. Não há dúvida nenhuma que o advento da digitalização desclassificou a escrita manual e iniciou um processo de literacia digital, absolutamente essencial para as muitas urgências de produtividade e velocidade que os nossos dias impõem. E isso atirou a caligrafia para uma prateleira da história.
Não é sequer excessivo, acreditar que a escrita manual, caligráfica ou digital, percorre uma rota de irremediável extinção e tem os dias contados. A obsolescência da caligrafia e da escrita digital será imposta pela precisão crescente da conversão da oralidade para texto (speech to text).
Escrever tornar-se-á, dentro de muito poucos anos, uma forma íntima de artesanato gráfico e pouco mais. Resultado irreprimível de tudo isto é a degradação notória da caligrafia dos nossos jovens. Muito embora haja ainda caligrafias irrepreensíveis, (muitas delas patentes em alunos dos PALOPs) escreve-se cada vez pior com repercussões violentas na estrutura e na ortografia. Custa aceitar tranquilamente este empobrecimento quando se percebe que muita da vida de um jovem continua a ser decidida a escrever caligraficamente. O calvário de exames caligráficos que terá de percorrer pode assim converter-se numa pesada cruz para a qual poucos ombros estão preparados.
Pedagogia enganosa
É que vive-se hoje, como em todos os momentos de transição de paradigma, uma soma de equívocos. Treinamos fervorosamente estes miúdos para a literacia digital – manuais digitais, cadernos digitais, exames digitais e laboratórios digitais – e depois sobrelotamos-lhes a vida com exames escritos à mão. É um caso de pedagogia enganosa. E não ficamos por aqui em matéria de decepção. Anda tudo arrebatado com as notícias de que há países que estão a desvitalizar o ritmo da digitalização que haviam iniciado. Estão a “voltar atrás”, garantem-nos. De nada adianta conhecer que, na sua maioria, o pressuposto para travar a digitalização é bem mais ideológico do que pedagógico. Não haja confusão. Não há nenhuma razão idónea para travar a digitalização. É verdade que não nos encontramos num patamar cultural e educativo que autorize a integral digitalização de todos os processos pedagógicos, nem é sequer fatal que seja esse o caminho a seguir. É necessária prudência. Como sempre foi em educação. A resistência à mudança é mesmo uma das principais prerrogativas dos educadores que não podem deixar de exigir propósito e tino nas reformas educativas. Mas outra coisa é não perceber nada. Precisamos de caminhar, pedagogicamente, para uma cultura escolar que saiba integrar crítica e criativamente a digitalização. Sob o risco de aprofundarmos ainda mais o abismo cultural entre classes socioeconómicas e entre gerações.
Voltar ao princípio ou voltar aos princípios
A veemência ideológica do back to basics serve a maioria das vezes uma governança feita de imaturidade e falta de discernimento. Tudo se suporta em educação menos a incoerência. Distribuir milhares de computadores pelos miúdos no ensino básico e secundário, enviar académicos a todas as conferências sobre educação deste país para que enalteçam as virtudes da digitalização, para que depois esses mesmos alunos entrem em universidades que repudiam a inteligência artificial e exigem que – para garantir autenticidade autoral – todas as provas escritas sejam escritas à mão, vigiadas atentamente por pessoal contratado para o efeito é, no mínimo, uma afronta científica. Ou seja ensina-se os miúdos a escrever digitalmente para que quando cheguem ao superior saibam escrever tudo à mão, à antiga, em “frequências” e exames. Inqualificável.
A caligrafia do medo
O medo da digitalização nasce do mesmo lugar de todos os medos: da distância perante aquilo que nos mete medo. Há muita coisa por fazer. O valor do tempo, do exercício físico e da comunhão com a natureza, do civismo e da solidariedade, a importância da escrita e da leitura como formas activas de reflexão íntima e vagarosa são necessidades sociais vitais para estes tempos digitais, tão vorazes, tão inseguros. Caminhamos sobre piso flutuante. Abrir as portas para as possibilidades incontornáveis da digitalização como elevador social, cultural, crítico, informacional e criativo dos cidadãos é uma responsabilidade capital do sistema público de educação. E para quem ache que mais digitalização na escola pode “viciar os miúdos em tecnologia” cumpre recordar que a escola é a única entidade que procura ainda – com ou sem sucesso - ajudar os miúdos a usar a tecnologia com segurança, ponderação e equilíbrio. Não se confunda as coisas nem se atribua às escolas uma negligência educativa que nunca causou. Não foram as escolas que viciaram os vossos filhos nos telemóveis. Foram as famílias. Fomos nós. O medo tem a nossa assinatura.