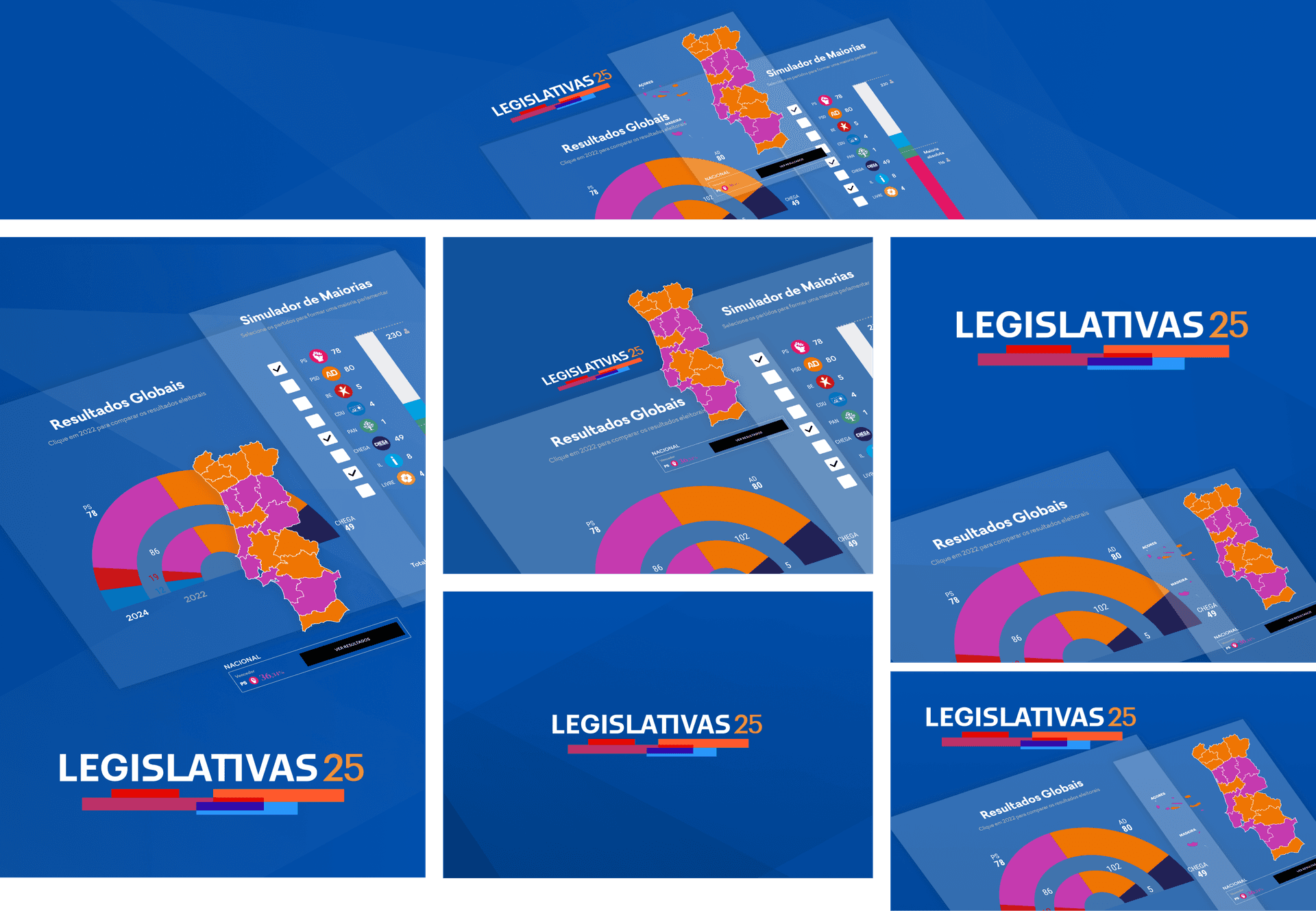Em ressaca de eleições, que marcam sempre um novo clímax democrático em Portugal, calha bem refletir sobre a campanha e, mais do que analisar aquilo que se disse, analisar a forma como se disse o que foi dito. Afinal, encontram-se discursos para todos os gostos nas últimas semanas, entre as postas de pescada sobre gatos albinos, piadas de twitter, promessas baseadas em gráficos, muitas fotocópias e percentagens dadas a interpretações e enquadramentos à escolha do freguês.
Porque seja com o objetivo de informar, e/ou convencer o eleitor a tomar decisões e exercer o seu direito e dever como cidadão, é certo que muitas vezes a população não possui educação cívica, literacia mediática, cultura científica e formação política para entender o que é discutido e apresentado.
Afinal, se o ato eleitoral é tão importante – ao ponto dos casos positivos de covid poderem sair das suas casas para votar – como se explica a vergonhosa taxa de abstenção crónica nas eleições portuguesas, e a falta de conhecimento e interesse político e cívico junto da população?
Por muito que se tenham produzido debates e discussões, descrito os programas de cada partido em temáticas, feito promessas, dado explicações e promovendo confrontos… aproximadamente metade da população portuguesa não vota. Chocam-se partidos num país onde não se estuda ciência e filosofia políticas no ensino obrigatório. E os conceitos de esquerda, direita, conservadorismo, liberalismo, socialismo, capitalismo – e mais uma data de “ismos” especialmente utilizados nestas alturas – não fazem parte do vocabulário da maioria dos cidadãos.
Afinal, pedir a uma grande fatia da população portuguesa que vá às urnas, e exigir que se decidam por um líder e um programa de forma profunda e ponderada, poderá não ser mais útil do que empurrar uma equipa de analfabetos para uma biblioteca, e dizer-lhes que são livres de ler o livro que quiserem, e levá-lo para casa.
Numa altura em que a confiança na ciência e na política mergulham numa divisão profundamente polarizada, entre a aceitação absoluta e a rejeição total, manchetes ousadas veiculadas pelos media e pelos partidos não ajudam ao diálogo, e debates de apenas 25 minutos entre candidatos numa campanha feita em cima do joelho também não. E é neste contexto que tomo a liberdade de considerar pertinente a divisão conceptual e académica que o autor Cristopher Auretta faz dos discursos, que caracteriza como biofóbico ou biofílico.
Afinal, em ressaca de campanha eleitoral, que campanha eleitoral tivemos? E que tempos serão os vindouros da democracia portuguesa?
O discurso biofóbico
O primeiro tipo de discurso – o biofóbico – diz respeito a discursos que identificam perigos e ameaças, e apontam as soluções para a resolução destes mesmos problemas. Promove estabilidade com factos, verdades acabadas sem espaço a interpretações, pelo que transmite segurança e linearidedade. Tem como vantagens oferecer ao recetor – neste caso, o cidadão – certezas que são reconhecidas como sinal de confiança e conhecimento. Contudo, e tal como o nome sugere, é um discurso “contra a vida” – uma vez que contraria o conceito do próprio crescimento e dinamismo, já que não tem espaço para mudança ou abertura para debate.
Não amadurece, não se altera nem evoluiu, e é típicamente utilizado em ações de propaganda e marketing social. Pode estar associado a grandes graus de polarização, visto que divide a realidade em dois lados opostos – objetivo/subjetivo, verdadeiro/falso, certo/errado, bom/mau… e utiliza a certeza como prova de segurança e legitimidade.
Os níveis de autoritarismo são exponenciais, e a liberdade do próprio discurso é reduzida, bem como a ausência de espaço para discussão. Estas características podem levar a novas versões de totalitarismo – posições mais radicais e extremistas, e o próprio funcionamento da democracia pode ser colocado em risco.
O discurso biofílico
O segundo discurso, o biofílico, comunica a realidade não através da dicotomia preto/ branco do discurso anterior, mas em vários graus de cinzento, que se alteram e conjugam. O humor e o sarcasmo, bem como a literatura ou a dialética são exemplos de como comunicar através de um discurso biofílico. O erro e a incerteza são aceites como parte integrante da realidade, pelo que este tipo de discurso não dá respostas certas, exigindo pensamento crítico e pedindo aos indivíduos que escolham e reconheçam o conceito de complexidade. É caracterizado pela inexistência de um herói e anti-herói, e de um verdadeiro e falso, bom ou mau.
O debate é estimulado porque são reconhecidas vantagens e desvantagens em cada um dos lados, visto que a liberdade dos sistemas é assumida e não é possível controlar tudo. Neste sentido, é construtivo discutir os prós e contras associados a cada posição e perspetivas para chegar à melhor opção.
Contudo, a segurança e credibilidade do líder é dinâmica e não estática como quando utilizado o discurso biofóbico. E como não é dada uma solução mágica para determinado problema, pelo que o discurso não é tão apelativo e reconfortante.
Os resultados junto de um público que espera segurança e um representante que tome decisões lineares não são os melhores. Apesar de mais democrático, o discurso biofílico exige conhecimento sistemático por parte de quem o recebe, para que só depois se possa exigir ao recetor que assuma responsabiidades pelas suas escolhas perante tal discurso. Tal como a vida, este tipo de discurso vai-se alterando e evoluindo, alimentando-se das escolhas entre os polos. Resulta do equilíbrio homeostático entre os extremos – tal qual uma célula que precisa de estar em equilíbrio com o exterior, ou um balão que não deve estar demasiado cheio ou demasiado vazio.
A literacia mediática, a formação cívica e a cultura científica são essenciais para que quem vota possa entender e criticar de forma construtiva os assuntos discutidos entre os oradores, e assuma um papel ativo na discussão. Todas estas componentes são fundamentais para analisar a complexidade e a objetividade na definição da verdade na democracia (ausente das discussões epistemológicas por séculos). Algo que não acontece no discurso biofóbico, dado que o espaço a discussão não existe.
O aumento da polarização nestas eleições pode significar inseguranças e medos de quem continua a exigir respostas lineares simplistas a desafios complexos. Afinal, os cidadãos querem ser livres, mas tendem a procurar contactos pessoais e redes informais consideradas seguras na presença de incerteza. E é o discurso biofóbico que lhes dá segurança.
“É preciso sair da ilha para ver a ilha”
A título de exemplo, conto a história ficcional de um certo viajante que chegou a uma cidade com o intuito de ajudar no que pudesse. Caminhou pelas ruas, entrou nas casas e falou com as gentes. Dias depois, só pensava na maldita estrada, que passava junto ao albergue onde dormia, e em como a direção do trânsito estava errada. Só descansou quando conseguiu mudar o sentido da rua, e esperou que, depois da alteração, tudo ficasse bem. Contudo, assim que o conseguiu, outros problemas surgiram em consequência. Perante a frustração do estrangeiro, um sábio aproximou-se, e pediu-lhe para que subisse ao alto da montanha e observasse a cidade de cima. O caminhante obedeceu, e do cimo do monte pode ver a cidade inteira, numa dimensão superior. Ao ver o povoado, e o sistema global de estradas que o cruzavam, entendeu a função do antigo sentido da “sua” rua e soube, também, que não poderia voltar à cidade sob pena de não ser mais compreendido. A sua certeza não era, afinal, assim tão linear. As pessoas que se moviam entre os trilhos daquele sistema complexo, tal qual um labirinto, não o iriam entender mais.
Afinal, citando Saramago, “é preciso sair da ilha para ver a ilha”. Ora, o discurso biofóbico é aquele que vê a estrada, e o biofilico o que vê a cidade num todo.
A propósito do jornalismo de ciência, António Granado e Vitor Malheiros, jornalistas e académicos, referem que tão pouco cabe aos jornalistas defender a ciência contra aquelas que criticam as suas práticas ou objetivos. Que o jornalista tem de explicar ao público o que é a ciência, o que os cientistas fazem e tentam fazer, e quais podem ser as consequências desse trabalho. Mas devem fazê-lo da forma mais independente possível, explicando também como a ciência é produzida, que forças a influenciam, qual é o significado das verdades científicas e que riscos implica o seu uso.
Um jornalista de ciência deve ter como objetivo dar aos leitores, ouvintes, ou telespectadores informação e visões suficientemente diversas, para que eles se tornem capazes de fazer escolhas conscientes sobre o uso da ciência, tanto ao nível pessoal como social. Ora, o mote está correto, a meu ver. Mas assim se aplica a qualquer área ou editoria, seja ela a da sociedade, da política, do desporto ou da cultura.
E na campanha eleitoral (e fora dela) mais do que perguntar e expôr o quê, há que perguntar por todas as outras dimensões. Mais do que discutir partidos e programas eleitorais, há que explicar e explorar o que é a própria ciência política e filosofia das ideias. A democracia depende disso. Contudo, como é difícil sair da cidade, de dentro do labirinto cujo caminho apenas é percecionado pela dimensão superior e uma abordagem sistemática, não resta aos eleitores, que nunca saíram das estradas, que alguém lhes indique o caminho.
No plano em duas dimensões não é possível entender o sistema como um todo, o que a três dimensões é facilmente compreendido. Edwin Abbott retrata a metáfora de forma deliciosa no seu romance “Flatland: um romance de várias dimensões” (falaremos dele numa oportunidade próxima) onde um quadrado conhece uma esfera, e inicia uma aventura maravilhosa. A crítica sistémica à sociedade victoriana, vivida pelo autor em 1884, não foge muito à da atualidade.
A capacidade de entreter o infeliz
Nietzsche afirmava que é justamente devido à capacidade de entreter o infeliz que os gregos viam a esperança como o mal dos males, assim como os habitantes da cidade (ou os eleitores, neste caso) vivem da esperança de que um dia os seus problemas sejam resolvidos, sem entender todo o sistema. Abandonando as metáforas, e voltando à realidade da ressaca da campanha, ficam agora apresentados os diferentes discursos e a necessidade de ver o sistema por cima, assim como justificada a importância de uma educação de qualidade, que evite a simplificação e ausência de explicação e favoreça a sistematização de factos em ideias.
É fundamental estudar e conhecer as rotinas produtivas mediáticas, científicas e políticas no ensino obrigatório, desde a socialização primária à secundária. E mais do que estudar teoria, há que fazê-lo através de comunidades de prática com aprendizagem emancipatória e baseada na experiência.
O sociólogo Edgar Mourin destaca que a objetividade dos dados vem da observação de problemas visíveis, momentâneos e comprovados por causas, contudo, para ser reconhecida, supõe:
1) uma concordância dos resultados, estabelecida por observadores ou experimentadores diferentes (que, eventualmente, podem até ter conceções opostas);
2) instrumentos e técnicas de observação que dependem do tipo de sociedade em questão;
3) a comunicação entre quem experimenta esses dados e quem os observa. Nesse sentido, importa entender que a “objetividade” discutida em campanha eleitoral é complexa, e não depende apenas de dados, quando as teorias não são apenas objetivas mas também subjetivas. Por um lado, dados objetivos e, por outro, construções baseadas em sistemas de ideias, aplicadas ao mundo real para o organizar em estruturas.
Para conhecer e entender a realidade há que entender, como Mourin explica, esta espéce de universo das ideias, que se pode chamar noosfera. Os sistemas de ideias que se organizam em princípios lógicos que, por sua vez, obedecem a paradigmas.
Porque, e acabando como se começou, “mentes pequenas discutem pessoas, mentes medíocres discutem factos e mentes grandes discutem ideias” dizia Eleanor Roosevelt. E a democracia depende disso. A educação é o melhor remédio para a ressaca eleitoral.